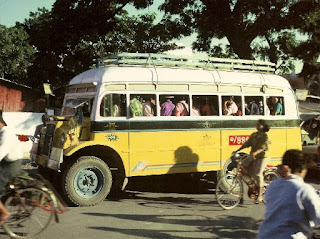...continuação
Fomos à cidade de Thai Nin para conhecer o templo Cao Dai,
percorrendo extensas áreas cultivadas, sobretudo de arroz. Não faltavam
bicicletas e mulheres com chapéus cônicos. Pertencente ao caodaismo, mescla de
quatro outras religiões, o templo abusava das cores vivas. As mulheres se
postavam separadas dos homens nos infindáveis e sonolentos rituais. Sob uma atmosfera
de autoritarismo ostensivo e usando braçadeiras, os membros da seita nos
policiavam, nos advertindo sobre o que podíamos ou não fazer. Mas felizmente o
número de seguidores estava em queda. Não era para menos. Os dirigentes e
principais membros da religião tiveram boas relações com os invasores
franceses. E, enquanto a região era devastada pelas armas químicas, a população
e a natureza sofriam com as bombas napalm e agente laranja, os invasores
estadunidenses não atingiram os templos do caodaismo. A indústria da religião
sempre soube escolher os aliados de plantão.
Mulheres vestiam ao dai, roupa formal vietnamita,
composta de calça branca e larga de algodão, mais túnica comprida de mesmas
características. Complementavam com luvas finas e compridas, sapatos de salto
alto, chapéus estilizados com fitas. Pareciam bonequinhas, pedalando bicicletas
com elegância e delicadeza nas ruas e estradas.
Seguimos a Cu Chi a fim de visitar os famosos túneis que
humilharam o exército dos Estados Unidos. Simpáticos e bem informados, os guias
nos deram as necessárias explicações, acompanhadas de mapas, perfis
esquemáticos, maquetes e vídeos. Conhecemos as estradas, tanques de guerra,
crateras das bombas estadunidenses, trincheiras. Engatinhamos em túneis
estreitos e escuros, que se interligavam com a superfície, refeitório, sala de
cirurgia, sala de reuniões, depósitos. O complexo de túneis se dividia em três
níveis, com até dez metros de profundidade. A extensão atingia 250 quilômetros,
de Saigon ao Camboja, com inúmeras ramificações.
As imediações do hotel de Saigon se transformavam em
reduto típico de turistas, caminhando a passos largos na imitação de Khao San
em Bancoc. Os gringos insistem em construir guetos semelhantes aos países de
origem, se distanciando das culturas locais. Perdiam oportunidades únicas e
valiosas de aprender e amenizar a intolerância. Mas a vida noturna em Saigon e
Cholon se agitava. Os moradores saíam bastante, lotando bares e cafés. Motos,
lambretas e bicicletas com casais e amigos enchiam as ruas. Garotos vietnamitas
batiam pauzinhos na rua, avisando que havia sopa, e aceitavam pedidos de
encomenda.
Descemos ao delta do rio Mekong, área plana, alagadiça,
com manguezais, vegetação tropical, canais, população rural, plantações de
arroz, frutas. Ainda na estrada, lavradores nos receberam alegremente, nos
servindo o saboroso e refrescante café com leite gelado, típico do sudeste
asiático. Tomamos barco no mercado local de Mytho que conduziu pelos canais até
Vhin Lon. A dificuldade de comunicação não impediu que os ribeirinhos
recebessem sempre bem. Tentei me comunicar com sinais com garota vietnamita,
também passageira do barco, e ganhei uma toranja de presente. Os ribeirinhos e
passageiros de outros barcos acenavam e sorriam.
O guia local afirmou que as terras no Vietnã foram
devolvidas aos proprietários anteriores à libertação do país em 1975, isto é,
aos latifundiários aliados dos invasores estadunidenses. As escolas e a
assistência médica para a maioria da população não eram gratuitas. Os gastos
com educação correspondiam à cerca de um terço dos salários. O setor privado
estava liberado para quem contasse com capital. Sob a propriedade privada e
economia de mercado, o Estado vietnamita ainda controlava muita coisa, mas o
socialismo e o comunismo nunca existiram no país. Os resultados disso se
evidenciavam nas classes sociais antagônicas, concentração de renda, elitização
da educação e da saúde, favelas, mendicância ao lado de carrões e gente bem
vestida.
Saída matinal com destino à cidade
serrana de Dalat. Antes da serra, extensa ponte fluvial sobre casebres
espalhados de vilarejo flutuante e, mais adiante, imensos seringais. Era a
região mais cristã do país, com enxame de igrejas horrorosas. A indústria da
religião lucrava e se expandia no Vietnã capitalista. A topografia se
acidentou, surgiram plantações de chá, café, fumo, verduras diversas, criações
de bicho da seda.
Após Bao Loc, parada para visitar
cachoeira paga e próxima à rodovia. A entrada e a frequência eram deprimentes.
Dois indivíduos vestidos de bonecos cobravam entrada cara, um deles fantasiado
de mickey mouse com as cores da bandeira estadunidense. Jovens
vietnamitas com roupas sociais desfilavam pelo local. A tentativa de parecerem
ocidentais tornava-os ridículos.
Distante dali a costumeira
hospitalidade dos agricultores que nos explicaram as fases do processamento de
fumo e bicho da seda. A paisagem ao redor era montanhosa e verde. Clareiras
quebravam o verde nas encostas e nas cristas das montanhas, escancarando os
efeitos dos bombardeios dos Estados Unidos com armas químicas. Além de milhões
de mortos e feridos, os pesados e contínuos bombardeios de napalm e agente
laranja envenenaram imensas áreas do sul do Vietnã, esterilizando o solo e
impedindo o plantio por muitas décadas.
Antiga estância dos invasores
franceses, a cidade de Dalat, a mais de 1.600 metros de altitude, revelava
temperaturas amenas e casais em lua-de-mel. A temporada de casamentos enfeitava
e alegrava a cidade, com festas, carros decorados por todos os lados. O mercado
noturno transbordava de gente comendo e bebendo. Quase tudo era ao ar livre, animando
a noite da cidade.
Descida da serra com visual
privilegiado das montanhas e vales. No caminho, pequeno templo hindu,
construído pela etnia Chan entre os séculos XI e XII. Crianças saídas das
escolas se aproximaram em grupos. Queriam nos abraçar, conversar, serem
fotografadas ao nosso lado. Na parte baixa da serra, à medida que se aproximava
a beira do mar, arrozais e salinas. As trabalhadoras rurais vestiam calças
pretas e largas, camisetas claras e chapéus cônicos.
Chegada em Nha Trang em hotel cujas
mesas de sinuca, tênis de mesa, quadra de tênis e até a piscina eram cobradas à
parte. A longa praia era bonita, em concha, coberta de coqueiros. Não havia
habitações invadindo as areias, apenas bares simples.
Alugamos bicicletas de manhã e nos
dirigimos às torres do século XI. Descemos aos vilarejos de pescadores na beira
do mar. Barcos feitos de palha, arredondados, flutuavam nas ondas próximas à praia.
Os moradores interrompiam os afazeres a fim de melhor nos observarem,
analisarem, tentarem se comunicar por mímicas e sorrisos. As crianças nos cercavam, pediam fotos, nos
cumprimentavam, nos abraçavam. Avançamos à pequena enseada deserta, com águas
calmas e azuis, poucas pedras. Não resisti e caí no mar. Retorno pela estrada
principal sofrendo com o tráfego intenso e perigoso até o centro da cidade.
Almoçamos com o visual relaxante da beira do mar.
Nha Trang marcava pela presença
constante de pedintes de comida e esmolas em geral, deficientes físicos, sem
partes dos membros. Eram vítimas da guerra promovida pelos Estados Unidos. E o
intenso turismo na cidade atraía os miseráveis e abandonados pelo Estado. Cenas
chocantes se repetiram no restaurante afastado da praia. Pedintes se
aglomeravam nas imediações e imploravam por comida.
Casais iam de lambreta ou bicicleta aos
coqueirais na beira da praia e se liberavam. Putas ainda jovens, exageradamente
pintadas, acenavam, chamavam. A maioria
das vietnamitas, porém, não correspondia a olhares e paqueras, seja por timidez,
necessidade de se diferenciar das prostitutas, preferirem diferentes estilos de
abordagem.
Dia longo por estradas estreitas,
acidentadas, sinuosas, com tráfego intenso. Mais imagens chocantes de zonas
desmatadas pelas armas químicas lançadas pelos Estados Unidos. Extensos
arrozais, salinas e cultivo de algas predominavam nas partes baixas, ao lado de
pitorescas baías, ilhas, vilarejos de pescadores. Paradas para o café da manhã,
almoço e inúmeros cafezinhos gelados na beira do mar. Acrescentavam leite condensado
ao café coado e serviam em copos longos e cheios de pedras de gelo. Eu ia de
dois copos dessa delícia refrescante. Os arrozais não se cansavam de
deslumbrar.
Chegada à noite em Hoi An, cidade
aconchegante com sequência de bares na beira do rio.
O dia começou com explorações em
construções chinesas nas ruas e ruelas da cidade. Também pela ponte japonesa,
bairro europeu, entre outros. Hoi An era calma, pequena, especial. Conheci
vendedora na barraca de verduras do mercado que arranhava o inglês. Andei pelos
becos estreitos, arborizados e sombreados, cumprimentando as pessoas das casas.
Fui convidado a entrar pelo senhor sentado na varanda de uma delas. Os demais
moradores se aproximaram. Vizinhos também entraram. Fiquei rodeado de gente
sorridente a me observar com curiosidade e carinho. A ausência de palavras
ressaltava a magia dos gestos e expressões. Tomei chá, comi laranjas, ouvi melodias
em violão. A despedida entristeceu após experiência mágica que faz a diferença
nas viagens soltas, com tempo, sem roteiros fixos. Mais tarde passeei de
bicicleta pelas bandas da praia afastada.
A dublagem de filmes na televisão era
efetuada por apenas uma mulher, para todos os atores, sem qualquer entonação ou
emoção.
Percorri longos trechos de bicicleta
nos arredores ao norte de Hoi An. Cruzei vilarejos rurais, extensos arrozais,
escolas, estaleiros. Centenas de estudantes de ensino fundamental viram das
janelas das salas de aula e saíram em disparada, cercando aos gritos, pedindo
fotos. Os de trás passavam na frente dos da frente e assim por diante. Foi o
acontecimento do dia para eles. As professoras os convenceram a entrar somente
quando parti na bicicleta. Mas, de longe, ainda nos acenavam aos gritos.
No dia seguinte, serras esverdeadas por
horas, das quais se viam praias ao fundo e mais montanhas. As Montanhas de
Mármore, com templos e grutas cobertas de imagens de Buda. Passamos ao lado de
Da Nang, antigo ponto de desembarque das tropas invasoras dos Estados Unidos.
As plantações sem fim de arroz compunham tapete esverdeado até a linha do mar.
Entrada na cidade de Hue à tarde, por
ruas amplas e arborizadas, onde não faltavam as bonequinhas em bicicletas,
motos e lambretas. Extensa faixa com embarcações de madeira e cobertas de palha
trançada abrigavam população flutuante, a mais numerosa vista até então. O povo
adorava conversar nas calçadas, em frente às casas, convidando a entrar. Jantar
em restaurante de comida típica vietnamita, cujos donos eram surdos-mudos. O
ambiente mais parecia casa de loucos. Diversos garçons atendiam as mesas,
abraçavam, se sentavam nas pernas dos fregueses. Adoravam brincar, fazer
gozações. Tudo era festa. Nada era sério, exceto a saborosa comida. Caminhada
de volta através de ruas cheias de jovens assistindo aos fogos de artifício.
Passeio pelas ruínas da cidadela
fortificada e cidade proibida. Em 1968, durante a ofensiva do Tet, os vietcongs
expulsaram os invasores estadunidenses, ocupando a cidade por 24 dias. Os
Estados Unidos bombardearam tudo, inclusive a cidadela, na tentativa de reaver
o controle militar, massacrando os moradores. O barco levou à longa viagem pelo
rio, visitando as tumbas de antigo imperador do século XIX, e o pagode ao lado
de mais túmulos. Os pedintes e vendedores de bugigangas não se cansavam de
assediar.
Embarque rumo a Hanói, a capital
vietnamita.
Sob o céu cinzento, caminhada pelas
ruas charmosas, cheias de motos e bicicletas. Eu me deliciava com as sopas e
ensopados, com tudo dentro, servidas em restaurantes minúsculos. À noite, teatro
para assistir ao espetáculo das marionetes aquáticas, tradição vietnamita que
surgiu e se popularizou nas épocas das grandes enchentes. Era teatro amplo,
confortável e moderno, com apenas turistas na plateia. A apresentação agradou
pelo colorido e alegria dos bonecos.
Os vietnamitas de Hanói revelavam
semblantes mais sérios, carrancudos, e se vestiam mais sobriamente que os do
sul do país. As mulheres, mesmo mais retraídas, primavam pela elegância e, nas
motos, transbordavam sensualidade e charme, com os cabelos negros e lisos ao
vento. Parte delas, na tentativa desajeitada de se ocidentalizar, tornava-se
ridícula e mal vestida. A maioria, no entanto, ainda não caíra na armadilha e
se orgulhava dos costumes vietnamitas. O povo raramente abordava nas ruas,
valorizando a privacidade e individualidade.
Na estrada no sentido norte, cruzamos a
cidade portuária de Haiphong. Com exceção das vistosas plantações de arroz, a
paisagem era feia demais. O tempo cinzento e chuvoso contribuía para avaliações
negativas. Muita lama e casas velhas em Haiphong, mas os moradores sorriam mais
que em Hanói. Almoço bom e farto.
Chegamos em Ha Long, à beira mar. Prédios
novos exibiam gosto duvidoso nas decorações e fachadas. Hotéis e restaurantes
escandalizavam com acabamentos em rosa e cores vivas. Cortinas verdes de cetim
brilhante pendiam das janelas. Doía só de olhar. A incompetência da moderna
indústria turística mais depredava que construía. Os diversos karaokês
espalhados pela cidade e ao redor do hotel estavam a mil.
Em embarcação confortável avançamos
pela baía de Ha Long, percorrendo o labirinto de ilhas calcárias, em diversos
tamanhos e formatos, algumas com grutas e cavernas. As raras praias eram
pequenas e pedregosas. O mar, mesmo com o tempo cinzento, se destacava pelo
verde intenso. As temperaturas não convidavam a mergulhos, mas valia a emoção
de circular pelo cenário ímpar. Ancorávamos para explorar as ilhas com cavernas
e formações rochosas inusitadas. Valia circular por paisagens tão ímpares e
belas.
A comida do barco era saborosa e farta,
com predomínio de camarão, lula, peixe, arroz, tudo bem temperado. À noite, as almofadas
pelo convés coberto do barco, lado a lado, formando uma grande cama.
Café da manhã cedo. A tripulação deu a
partida e, em poucas horas, retornou ao cais da cidade. A névoa espessa não
deixava ver quase nada. Novamente o vilarejo cafona e sujo de Ha Long. Subida
em direção a Hanói. As rodovias, estreitas e cheias, continuavam a assustar. As
trabalhadoras rurais se cobriam, além dos chapéus cônicos, com panos sobre o
rosto a fim de não se queimarem, mesmo em dias nublados. O sol fraco ameaçou
aparecer no final da tarde ao entrar nas ruas da capital.
Passeio pelas redondezas do museu e
mausoléu Ho Chi Min. Pagodes e lagos valorizavam o local. Nas imediações, casas
elegantes em ruas arborizadas e sombreadas, praças e parques, mais lagos. As
informações históricas no museu estavam organizadas e intercaladas com obras de
arte moderna. Os ambientes de luz e sombra davam encanto especial ao conjunto.
Entrei no templo da Literatura, local
da primeira universidade do país, datada do século XI. A atmosfera da
construção térrea com toques em madeira avermelhada cobria-se de calma e
silêncio.
Na parte antiga de Hanói, as ruas se
distinguiam pelos produtos vendidos. Rua dos sapatos, rua das roupas, rua da
prata, rua do peixe, rua do bambu, rua das lápides. Verdadeiro mar de gente em
vaivém de compras e vendas. Cheiros diversos passavam em região que exalava
muita vida. Assisti ao intenso pôr-do-sol enquanto conversava à vontade com um
vendedor de guias e com um estudante de direito. O fato de nenhum dominar a
língua inglesa, não impediu de debatermos assuntos dos mais variados.
Conversei bastante com a recepcionista do hotel sobre
perspectivas profissionais e pessoais. Ela guardava ideias difusas e vagas
sobre o ocidente. Repeti as andanças e descansos na beira do lago a fim de
apreciar a paisagem e os moradores ao redor. Os vendedores insistiam em vender
o que eu não queria comprar. As irritantes crianças pediam dinheiro e até
tentavam enfiar as mãos em meus bolsos.
Visitei os interiores do mausoléu Ho
Chi Min. A longa fila acompanhava e homenageava o corpo iluminado com luz
amarelada do presidente, libertador e herói nacional Ho Chi Min. Os diversos
seguranças não demonstravam truculência e a atmosfera passava calma e respeito.
Próximo, a cabana suspensa e ventilada, a antiga casa e local de trabalho dele.
À tarde relaxei em café no meio do jardim do lago.
O tamanho das mesas, cadeiras, bancos
dos cafés e restaurantes nas calçadas lembrava brinquedos de crianças. Os
bancos não passavam dos dez centímetros de altura. Ao me sentar tinha que
flexionar as pernas, ficando os joelhos na altura do rosto. E eu virava a
grande atração. Os vietnamitas me observavam e riam. Riam muito. E riam também
quando eu tentava pronunciar os pratos durante meus pedidos à cozinheira. Por
mais que tentasse não acertava a pronúncia das sílabas com os traiçoeiros
sinais em cima e embaixo. A cozinheira, nos restaurantes de rua, ou as
garçonetes, nos outros locais, não entendiam e olhavam para os lados. De nada
adiantava eu repetir. Começavam a rir às gargalhadas, junto com os clientes que
ouviam a cena. Os risos voltavam a todo vapor quando eu pedia outro. Os miúdos
vietnamitas jamais repetiam e se espantavam de eu aguentar comer duas enormes
tigelas da sopa engrossada com carne de boi, frango ou porco, diversos legumes,
verduras e temperos. Um minúsculo local no centro da cidade preparava o melhor Bun Bo de Hanói. Desisti de procurar
alternativas e virei freguês dali.
Os funcionários do hotel me convidaram
a comer deliciosa sopa matinal. E ainda repeti a dose. O pai da recepcionista
apareceu e, sem falar uma palavra de inglês, me convidou a visitar o estúdio de
pinturas na casa vizinha. Vi fotos, consultei livro sobre arte vietnamita,
tomei chá.
E me dirigi de micro-ônibus da empresa
aérea ao aeroporto de Hanói. A turista alemã com cara de nazista não queria que
eu me sentasse ao lado dela, alegando que estava reservado para o namorado.
Ignorei e permaneci sentado. As ruas estreitas e congestionadas sob o tempo
chuvoso tornaram o percurso demorado e desconfortável. As dependências do
aeroporto de Hanói gelavam e os passageiros se encolhiam nos bancos. Nem
parecia país tropical. Chovia, ventava e fazia menos de 15 graus.
O avião pousou em Bancoc antes do
meio-dia, sob o sol escaldante e temperatura na marca de 40 graus. O
desembarque demorou horas e enfrentei fila quilométrica.
De volta ao pesadelo de
pós-adolescentes que se consideravam alternativos e experientes. E o festival
de artilharia pesada assustava com as loiras que me tiravam o apetite. Talvez
sofreram graves acidentes na infância e ficaram com sequelas nas estruturas.
O calor me fazia transpirar por todos
os poros. Ainda mais depois do frio vietnamita. Retirei o restante da bagagem
deixada em hotel da região. Esvaziei ambas as mochilas no tapete da área de
estar. Tirei o suor na pia do banheiro e vesti camisa limpa. Arrumei tudo e
subi em lotação rumo ao aeroporto.
Durante o voo noturno me emocionei quando
o comandante comunicou a passagem sobre a cidade de Yangon em Mianmar. O avião
pousou em Londres ainda no escuro. A inglesa da imigração insistia que eu viera
procurar trabalho ilegal na Inglaterra. Não adiantou eu mostrar o bilhete e o
cartão de embarque para aquela mesma noite com destino a São Paulo. E repetia
as mesmas perguntas como papagaio. Eu as respondia como papagaio. Ela me olhava
friamente. Eu a olhava friamente. Venci a burocrata loira pelo cansaço e fui
liberado.
Amanheceu tarde em Londres, com muito
frio, vento, chuva. Era o segundo choque térmico e uma noite sem dormir desde
Hanói. Esperei o dia clarear. Caminhar nas ruas nem pensar. Os museus eram a
única alternativa. Visitei o Museu Britânico que guardava milhares de peças
saqueadas pelo império britânico. Havia de tudo e de todos os lugares após
séculos de pilhagens e roubos pelo mundo afora. Os invasores chegaram ao cúmulo
de arrancar parte por parte de templos hindus na Índia e montá-los inteirinho
novamente na Inglaterra. Assalto puro e simples. A Galeria Nacional oferecia
acervo permanente de artes plásticas. Aproveitei para descansar e cochilar nos
enormes sofás. O museu de cera de Madame Tussaud abusou do mau gosto. Figuras
pouco fiéis tentavam homenagear personalidades nem sempre homenageáveis.
Turistas vibravam e fotografavam, sobretudo no espaço reservado aos quatro
rapazes de Liverpool.
Caía de sono e cansaço. As opções para
passar o tempo chuvoso se acabavam. Retornei ao aeroporto no início da noite. O
atendimento nos balcões da empresa aérea inglesa primava pela desorganização e
má vontade. Os despreparados funcionários ingleses chegaram atrasados,
interrompiam o embarque sem motivo aparente, tagarelavam bobagens entre si.
Atrasaram o voo em mais de uma hora. Legítima pontualidade britânica!
Na manhã do fim de janeiro do ano
seguinte cheguei a São Paulo, sob o sol e calor. Terceiro choque térmico. Duas
noites sem dormir e nove horas e meia de diferença de fuso horário desde Hanói.
Entrei em casa, abri as janelas, tomei banho, saí para
matar a fome. Retornei, deitei e adormeci. Acordei somente 23 horas depois.